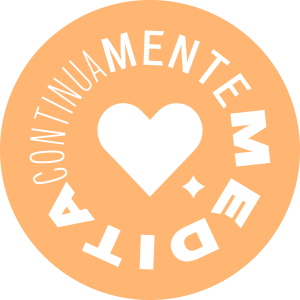É-nos dito e repetido que o tempo bem aproveitado é um contínuo, tendencialmente ininterrupto, que devemos esticar e levar ao limite. A maioria de nós vive nessa linha de fronteira , em esforçada e insatisfeita cadência, desejando, no fundo, que a vida seja o que ela não é: que as horas do dia sejam mais e maiores, que a noite não adormeça nunca, que os fins de semana cheguem para salvar-nos a face diante de tudo o que fica adiado.
É-nos dito e repetido que o tempo bem aproveitado é um contínuo, tendencialmente ininterrupto, que devemos esticar e levar ao limite. A maioria de nós vive nessa linha de fronteira , em esforçada e insatisfeita cadência, desejando, no fundo, que a vida seja o que ela não é: que as horas do dia sejam mais e maiores, que a noite não adormeça nunca, que os fins de semana cheguem para salvar-nos a face diante de tudo o que fica adiado.
Quantas vezes nos vemos concordando automaticamente com o lugar-comum: “precisava que o dia tivesse quarenta e oito horas” ou “precisava de meses de quarenta dias”. Desconfio que não seja isso exatamente o que precisamos. Bastaria, aliás, reparar nos efeitos colaterais das nossas vidas super ocupadas, no que fica para trás, no que deixamos por dizer ou acompanhar. Sem darmos bem conta, à medida que os picos de atividade se agigantam, as nossas casas vão-se assemelhando a casas devolutas, esvaziadas de verdadeira presença; a língua que falamos torna-se incompreensível como uma língua sem falantes no mundo mais próximo; e mesmo que habitemos a mesma geografia e as mesmas relações, parece que, de repente, isso deixou de ser para nós uma pátria e tornou-se uma espécie de terra de ninguém.
O ponto de sabedoria é aceitar que o tempo não estica, que ele é incrivelmente breve e que, por isso, temos de vivê-lo com o equilíbrio possível. Não nos podemos iludir com a lógica das compensações: que o tempo que roubamos, por exemplo, às pessoas que amamos, procuraremos devolvê-lo de outra maneira, organizando um programa ou comprando-lhes isto e aquilo, ou que o que retiramos ao repouso e à contemplação vamos tentar compensar em férias extravagantes. A gestão do tempo é uma aprendizagem que, como indivíduos e como sociedade, precisamos fazer.
Nisso do tempo, por vezes é mais importante saber acabar do que começar, e mais vital suspender do que continuar. Lembro-me de que, durante anos, numa casa em que vivi, ouvia diariamente o varredor de rua limpar as folhas caídas do grande lódão, por baixo da minha janela. Ele chegava por volta de 1 da manhã, mais coisa menos coisa. A música de sua vassoura era uma chamada a concluir e a recolher-me. Também eu precisava varrer a minha dispersão e apagar a luz até o dia seguinte. Mas até esse exercício de interromper um trabalho para passar ao repouso não nos é fácil, pelo menos em certa idade. Isso implica, não raro, um exercício de desprendimento e de pobreza. Aceitar que não atingimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto. Aceitar que o lugar aonde chegamos é ainda uma versão provisória, inacabada, cheia de imperfeições. Aceitar que nos faltam as forças, que há uma frescura de pensamento que não obtemos mecanicamente pela mera insistência. Aceitar porventura que amanhã teremos de recomeçar do zero e pela enésima vez.
Creio que o momento de viragem acontece quando olhamos de outra forma para o inacabado, não apenas como indicador ou sintoma de carência, mas como condição inescusável do próprio ser. Ser é habitar, em criativa continuação, o seu próprio inacabado e o do mundo. O inacabado liga-se, é verdade, com o vocabulário da vulnerabilidade, mas também (e eu diria, sobretudo) com a experiência da reversibilidade e da reciprocidade. A vida de cada um de nós não se basta a si mesma: precisaremos do olhar do outro, que é um olhar o outro, que nos mira de um outro ângulo, com uma outra perspectiva e outro humor. A vida só por intermitências se resolve individualmente, pois o seu sentido só se alcança na partilha e no dom.
fonte do texto:
MENDONÇA, José Tolentino. Libertar o tempo: para uma arte espiritual do presente. São Paulo: Paulinas. 2017. p. 22-25fonte das imagens:
The Long Now Foundation e Wikimedia commons